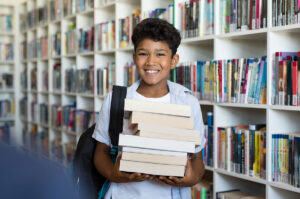Em sua obra “Sapiens: uma breve história da humanidade” (L&PM, 2015), Yuval Noah Harari, historiador israelense, afirma que, entre outras habilidades, foi a capacidade de contar histórias que tornou hegemônica a espécie humana no planeta Terra. Quer dizer, não foi exatamente a capacidade de contar histórias − não no início. Inicialmente, quando as primeiras coletividades humanas se formavam e já contavam com estruturas linguísticas, ainda que rudimentares, era difícil saber em quem confiar. A sobrevivência era a ordem do dia, e todos buscavam os mesmos recursos escassos, em uma corrida que raramente contribuía para a formação de laços entre os indivíduos.
Contudo, à medida que a linguagem evoluiu e se tornou mais complexa e rica, os seres humanos desenvolveram modos de comunicar uns aos outros quais indivíduos poderiam ou não ser considerados para a realização de atividades básicas das comunidades que se formavam (caça, coleta, proteção do grupo etc.). Se você está pensando que, em outras palavras, a humanidade se desenvolveu porque criou um elaborado sistema de “fofoca”, sim, você acertou! Foi a evolução de nossa capacidade de falar de outros e, em consequência, de nós mesmos, que viabilizou o crescimento exponencial dos agrupamentos humanos e a sofisticação dessas coletividades em todos os sentidos (inclusive o de contar fofocas cada vez melhores).
Algum tempo foi necessário para que a humanidade passasse desse estágio de produção de relatos simples relacionados a indivíduos e grupos para a elaboração de estruturas ficcionais e fantásticas. O primeiro passo nessa nova jornada foi o mito – a criação de histórias que explicavam os fenômenos da natureza, a origem da humanidade, o destino do mundo no fim dos tempos e os diferentes planos de existência pós-morte possibilitou que o ser humano aprofundasse a visão de si mesmo, do outro e do mundo que o cerca. Foi por meio dessas narrativas que os indivíduos encontraram algum lugar no mundo, algum sentido na vida, algum significado no tempo e na morte.
Até que, por volta de V a.C., com o surgimento da Filosofia, a mitologia e as histórias passaram a andar cada vez menos de mãos dadas. Obviamente, esse casamento nunca acabou totalmente, mas as histórias passaram a ganhar cada vez mais autonomia para tratar do ser humano, de suas demandas, da realidade à sua volta e de seus sentimentos mais profundos sem ter de apelar para a influência de entidades divinas caprichosas.
Portanto, podemos afirmar que a nossa capacidade de contar histórias funciona como uma espécie de “sessão de terapia”: quando ouvimos narrativas sobre as paixões, as realizações, os anseios, os sonhos, os medos, as frustrações de alguém, passamos a pensar em nós mesmos. As histórias literárias funcionam como portas para novos mundos; mas o fantástico é que esse mundo está dentro de nós! E quanto aos personagens literários? Esses funcionam como espelhos em que vemos refletidas todas as características que nos fazem tão humanos – invejamos a beleza alheia; nos ressentimos de sermos excluídos; desejamos o que os outros têm; criamos inimizades por motivos fúteis; tememos o que não compreendemos e quem não conhecemos.
Mas também somos capazes de compartilhar tudo que temos, ainda que corramos o risco da carestia; de abraçar o próximo sem fazer a mínima ideia de sua história; de lutar contra o invencível em nome de uma ideia nobre, de um grupo, ou até de uma pessoa, em necessidade; de criar vínculos entre coletividades rivais; de reconstruir lugares devastados; de curar feridas há muito tempo abertas. A literatura tem esse poder de nos possibilitar mergulhar tanto em águas serenas e cristalinas como em mares tumultuosos e turvos. Mas sempre saímos transformados dessa travessia.
Observe a beleza dessa maravilhosa trajetória que percorremos no decorrer de nossa história: inicialmente, nossos relatos eram de natureza meramente utilitária (apontar pessoas úteis e confiáveis pra determinadas tarefas); em seguida, demos um passo à frente, olhando em volta com uma nova curiosidade e uma nova vontade de falar da realidade que nos cercava e criando narrativas e personagens fantásticos para enriquecer nossas visões; esse estágio nos permitiu chegar no estágio de podermos olhar para nós mesmos, sem subterfúgios, criando figuras mais próximas de nós, com histórias tão tangíveis como as nossas, para podermos contar nossas alegrias, nossos êxitos, mas também nossos receios, nossas angústias, nossas dúvidas, nossas ausências.
Obviamente, a fantasia ainda existe e continuará existindo. Nós não abandonamos nossos heróis voadores, nossas divindades complexas, nossos vilões ambiciosos, nossas naves espaciais, nossas dimensões paralelas, nossos mundos exóticos. Todos esses recursos continuam comunicando sobre nós mesmos e sobre o que desejamos, o que rejeitamos, os valores pelos quais lutamos.
Contudo, qual é o poder de uma história que fala, por exemplo, de um menino que tem medo de ir para uma nova escola? A entrada no novo ônibus escolar; os olhares estranhos de crianças desconhecidas; a chegada no novo portão; o assombro daquele corredor largo, muitas vezes escuro, que leva a criança a uma experiência totalmente nova… Quem já não passou por isso? Para muitas crianças, essa é só “mais uma segunda-feira”. Mas, pare para pensar: quantos sentimentos e emoções podem ser trabalhados em uma vivência tão cotidiana como a de ir para a escola? Como a literatura é maravilhosa em possibilitar a criação de um mundo tão simples e, ao mesmo tempo, tão complexo!
E bote “complexo” nisso! Não é de hoje que as famílias passam por uma verdadeira “crise de diálogo”. Todos estão ocupados demais em suas tarefas diárias, enfurnados em seus dispositivos eletrônicos e conteúdos digitais, exaustos por estímulos incessantes de televisões, computadores, tablets e celulares para parar e (veja que absurdo!) e conversar com um familiar – com a mãe, o pai, o responsável, o irmão ou a irmã, uma avó, uma prima, um tio… Todos estão sendo assolados por uma pressão tremenda que atinge diretamente suas emoções, seus sentimentos, e muitos não estão dispostos (ou livres) a compartilhar seus problemas.
Pensemos no advento da pandemia de COVID-19. Milhões de pessoas tendo de se proteger em seus domicílios, olhando para o mundo por meio de televisões, vendo seus amigos somente por grupos de internet, todos olhando para câmeras frias e indiferentes e buscando afeto e conforto em uma realidade tão desafiadora. E, de repente, como que por encanto, toda a realidade voltou a funcionar, ainda que com marcas profundas de sofrimento. Quantas dessas milhões de pessoas puderam processar, e compartilhar, suas dificuldades, seus traumas?
Voltemos ao caso do menino que está para ingressar na escola nova. Quantas emoções não podem ser trabalhadas nesse contexto da perspectiva literária, não é? Podemos falar da ansiedade em relação ao novo, que nos atrai e, ao mesmo tempo, nos amedronta? Podemos falar da frustração de porventura perder amigos, deixar de frequentar lugares, de conviver com professores(as) querido(as), de brincar em uma balança ou um escorregador? Podemos falar do medo que sentimos da possibilidade de sermos rejeitados, maltratados, isolados? Podemos falar de nosso desejo de termos nossas diferenças respeitadas, nossas especificidades abraçadas, nossos defeitos aceitos? Podemos falar de nossa coragem de enfrentar o desconhecido? Podemos falar de nossa capacidade de aceitar e abraçar o novo, de se adaptar a novas realidades? Podemos falar do nosso desejo de criar vínculos, de estabelecer novas amizades? Com certeza podemos!
É com base nessa convicção que convidamos você, mãe, pai, cuidador(a), professor(a), a ler com sua(s) criança(s) e alunos(as) a obra “Medo da Escola Nova”, De Priscila Boy. A história conta as experiências de Beto, um menino que está para começar uma nova trajetória em uma nova escola. Procure se lembrar de suas próprias vivências nesse período tão rico, e tão delicado, da vida escolar. Pode ser que você também tenha passado pelas aventuras de Beto! Que tal complementar a incrível narrativa de Priscila Boy com um compartilhamento de sua própria história na escola com sua(s) criança(s) ou alunos(as)? Com certeza isso irá encorajar os pequenos a falarem de suas próprias experiências, dos sentimentos envolvidos e do modo como lidaram com as situações que viveram!
Quer saber mais sobre a relação intrínseca entre o “eu” e o “outro”? Acesse o nosso texto “Literatura infantil: agente de mudança social para um futuro mais inclusivo” em nosso blog.